
Atenção! Esse texto é uma descrição completa da aula ministrada por mim para os membros da quadratura no dia 03/09/2025 de forma remota.
Data: 3 de setembro de 2025
Horário: 10h35
Professor Kadu Santos: Bom dia, pessoal. Peço desculpas pelo atraso de hoje. Acabei me enrolando com algumas coisas, inclusive na preparação da própria aula. A semana foi bastante corrida, e eu sempre preparo o material com carinho, o PDF com o texto direitinho. Só que hoje me atrapalhei bastante e estava até agora tentando finalizar. Não deu tempo de escrever tudo como gostaria, então acabei fazendo prints da tela com algumas citações importantes do percurso para trabalharmos juntos. Desculpem pelos cinco minutos de atraso. Isso é um absurdo, principalmente por respeito ao tempo de vocês.
Hoje, por incrível que pareça, vamos falar do hoje. Vamos meditar sobre o hoje.
O que Heidegger está tomando como “hoje”? Naquela época, ele olhava para um problema filosófico concreto. Um problema fundamental: pensar o sentido da ocasionalidade. Já entendemos que a ocasionalidade é um instante, é o “cada instante”, o “em cada caso”. O “fazer-se” é uma determinação fundamental da própria facticidade.
Não estamos prontos nem acabados. A existência não está pronta; ela precisa se fazer, e quem faz é quem existe, é o próprio Dasein. É o famoso “faciamus” que vimos: nossa existência é um “fazer-se”. Como esse fazer-se se dá? Ele se dá de forma descabida, à revelia? Claro que não. Ele é situacional, histórico, é hoje. É um instante determinado e demarcado a partir de horizontes históricos e hermenêuticos. Toda nossa antecipação do futuro só é possível porque, no instante em que nos projetamos para o futuro, um passado já se deu, um horizonte histórico já está lá. Quando chegamos ao mundo, encontramos contextos prontos, horizontes históricos e hermenêuticos pré-configurados. Nunca nos encontramos numa folha em branco. Mas o nada também é fundamental nesse fazer-se. Tudo isso está em jogo para nós hoje, para refletirmos.
A primeira coisa que gostaria de saber de vocês, para começarmos nosso diálogo, é: qual é a ideia de “hoje”, de “instante”, de “presentidade” que vocês têm? Alguém poderia me dizer algo, pensar junto comigo? Não precisam pensar teoricamente; podem olhar para o instante de vocês. Qual é a ideia que vocês têm desse instante, deste hoje?
Ouvinte M: Não sei, pensando assim, sem elaborar muito… O instante é esse momento que se dá, onde de fato eu estou, habitando de uma forma mais real. Porque a gente pode estar no futuro imaginário, no passado, sei lá… Mas a vida acontece aqui, agora. Fiquei pensando nisso, nessa coisa do… que é um tema também pensado por filósofos, como Heidegger e Espinosa. Esse instante que sai do tempo cronológico, que é da eternidade, que está sempre se reiniciando. Não sei, fiquei pensando nessas coisas de uma forma mais implícita.
Professor Kadu Santos: É uma pergunta aparentemente boba, mas que nos coloca diante do instante para pensarmos. Alguém mais tem alguma colocação sobre o instante?
(Pausa)
Deixa eu continuar e perguntar à Maria, que fez a primeira colocação: esse instante que você acabou de falar, ele é um instante… na verdade, é o instante mais distante que você me apresentou. Ele está muito distante, é o instante do pensamento abstrato. Você elaborou uma ideia. Mas me diga o seguinte: o que você está fazendo agora?
Ouvinte M: Estou aqui, te ouvindo, vivendo esse momento de aprendizado.
Professor Kadu Santos: Ficou muito mais próximo do que aquele outro instante que você falou. Você acabou de tomar um instante nas mãos. Você disse: “estou aqui ocupada, me ocupando, nesse instante aqui com você, pensando”. Você não falou sobre o pensamento abstrato; falou sobre um instante concreto, anunciou sua ocupação.
Ouvinte M: É assim, né? Acho que estar aqui nesse momento tem o sentido de estar numa abertura, porque as coisas estão acontecendo, na medida em que a gente vai tocando… não sei, mas eu tô aqui, nessa abertura.
Professor Kadu Santos: Exatamente! É interessante, né? Uma pergunta tão simples, e veja como a gente tende a fugir, a escapar para o pensamento abstrato. Não é um erro, Maria. Essa tendência de pensar, de tentar abstrair e elaborar o que é nosso instante, nos faz perdê-lo. Quando você elaborou aquela ideia, você se ocupou, mas o resultado foi uma elaboração abstrata. Você saltou para Kierkegaard, para Espinosa… e elaborou uma ideia de instante. Enquanto isso, o verdadeiro instante estava, por assim dizer, aquém da ideia. Era justamente o ato de você tentar buscar o instante, quando o instante já se instanciava no seu próprio ato de pensar, na sua ocupação com o pensamento. Veja que aquele instante se passou, aquela ocasião se deu, e agora estamos em outra ocasião que está se dando, acontecendo. Você se apropria, e se dá outra ocasião. Essa é a noção do hoje, do instante.
Mas veja que, apesar de podermos elaborar e tentar capturar um instante, tudo isso só foi possível porque estamos amalgamados em contextos, em horizontes históricos que facilitam nossa própria abertura. Como você acabou de falar: nossa abertura para compreender a ocupação, o que fazemos agora, a ocasião. Veja que isso não está lá em Ser e Tempo nesses termos exatos, mas está lá na facticidade, na ocupação (Besorgen). “Ter de lidar com”, “pensar”, “ser tomado por”… são modos da ocupação, que nos fazem atentar para um determinado modo de ser que se ocupa. A beleza disso é que, antes mesmo de você elaborar um pensamento ou fazer uma abstração, você já se instanciava. Nós nos instanciávamos, eu junto com você e os demais, enquanto você elaborava um pensamento. O fato é que, já estando aqui, sendo conosco, ocupando-se até esse momento, utilizando seus materiais e utensílios para que pudéssemos conversar, isso não estava no âmbito da teoria ou da abstração. Era um plano prático, uma praxis.
Lembra que trabalhamos em Ser e Tempo? Quando lidamos com utensílios, estamos num plano prático. Não vemos o utensílio; ele está tão próximo, nosso ser está tão amalgamado com ele nessa relação conjuntural, que ele desaparece da nossa compreensão direcionada. Você não pensa no seu aparelho agora, mas se a tela fechar, você se volta para ele. Até então, estávamos numa conjuntura com o ser do utensílio, e o ente (o aparelho) não aparecia. Ele só aparece com o fenômeno da surpresa, da importunidade, da impertinência — os três modos de desmundanização do mundo que vimos em Ser e Tempo. Claro, estamos muito longe de Ser e Tempo; estamos em 1923 (Ontologia: Hermenêutica da faticidade), com Heidegger ensaiando os termos para chegar em Ser e Tempo de forma mais elaborada.
O que está em jogo, primariamente, é uma praxis, uma relação onde não pensamos na coisa, mas o fluxo simplesmente acontece sem que precisemos elabora esse fluxo ou mesmo pensar nele. Isso não é ruim. Só quando há uma obstrução na relação com o utensílio é que nos voltamos para o ente propriamente dito, saímos do modo prático para o modo da perscrutação, da análise, da reflexão. É por isso que nasce a epistemologia, a ciência: para visar o objeto intencionado. Temos, então, o modo do pensamento prático/cotidiano e o modo do pensamento científico. Este último se baseia no primeiro. Nosso instante é um instante da ocupação, não o instante do pensamento. Por isso eu disse: “Poxa, Maria, você foi muito longe. Seu instante estava distante.” Seu instante era “estou aqui, atenta, buscando compreender”. Isso é normal. Heidegger diz em Ser e Tempo que o que é mais próximo é o que mais a gente não vê, fica distante. É aquela velha história: você tem um jardim belíssimo na frente de casa, mas quando é que você olha para ele? As coisas próximas a gente tende a não olhar.
Hoje, vamos encerrar o segundo capítulo, que trata da ideia de facticidade e do conceito de homem, especificamente o parágrafo sexto. Vamos trabalhar como a facticidade é determinada e quais são as implicações deste “hoje” para o curso da investigação. O que Heidegger vai dizer? O que devemos afastar da nossa análise?
Heidegger inicia o parágrafo fixando novamente o tema da investigação: o Dasein impróprio é o tema, enquanto esse ente é o “questionado” na questão sobre o sentido do ser. Lembram das estruturas de uma questão? O interrogado (o ser), o questionado (o ente) e o perguntado (o sentido). Está em jogo o sentido do ser, o sentido da existência de um ente que existe, colocando seu ser em jogo. Toda pergunta sobre o sentido do ser tem um caráter ontológico.
Não posso investigar o sentido do ser de um ente de forma solta, flutuante. Esse ente está amalgamado numa facticidade. Ele se faz dentro de um contexto determinado, encontra-se e precisa sustentar-se a si mesmo. Portanto, o tema da investigação é a facticidade: o modo de ser, de dar sentido e buscar sentido para a existência de um ente que se faz, um faciamus.
Quando pensamos em Dasein e facticidade, temos quase uma perspectiva sinônima: eu sou minha facticidade, eu sou o Dasein. Sou em me ser fático (Faktisch), um “ter-de-ser”, entregue a mim mesmo para ser e ter de me articular num horizonte histórico transmitido pela tradição, que me foi legado. Esse horizonte histórico também não foi dado por si mesmo; é legado. Tenho que suportar esse “ter-de-ser” já num mundo determinado. Não é fácil. Mas isso não é ruim. Não está em jogo aqui um juízo moral. Está em jogo a facticidade: ter de ser entregue a mim mesmo num horizonte histórico.
Por isso, a pergunta “qual o sentido de ser?” — dado a mim mesmo, para suportar e ter de ser, dentro de todas essas determinações legadas — é fundamental. Em termos simples, facticidade é um “fazer-se” apesar de um horizonte histórico já constituído, apesar de ser entregue a mim mesmo, apesar de ter de suportar e sustentar meu ser. Apesar dos pesares, eu tenho de ser. Um faciamus, um “fazer-se” a si mesmo, apesar dos pesares.
Temos, de algum modo, a liberdade de nos fazer no interior — entre aspas — dos limites impostos pelo horizonte histórico-hermenêutico, por tudo que foi legado pela tradição. E o “hoje” aponta exatamente para isso. Quando falo “apesar”, não há um cunho moral de bom ou ruim. Ainda estamos distantes de pensar os fundamentos do que é bom ou ruim; isso seria um esquecimento, um seguir o curso do impessoal, da “falação” pública, que trataremos ainda hoje.
A própria facticidade do Dasein aponta para a direção — e aqui Heidegger faz uma observação metodológica — da sua correspondência ao “aí” ocasional. Deixa eu destrinchar isso. A facticidade do Dasein aponta para a direção a partir da qual este ente se ocupa. Ele dá sentido à sua existência a partir da ocupação: estuda para ser psicólogo, busca ser mestre, doutor, etc. Esse “se ocupar” é um modo de se fazer, de dar sentido à própria existência, articulando-se nesses horizontes de tradição. Sua existência, em si, é nua, vazia de determinações ontológicas. É uma aventura: jogado no mundo, tendo de se fazer.
Por um lado, o horizonte histórico antecipa suas possibilidades futuras — aqui está o caráter fantástico da temporalidade em Heidegger. Se pensarmos de forma maniqueísta, a “parte ruim” é que temos que enfrentar as tensões dessas determinações e lutar para quebrar estruturas que afligem, escravizam, subalternizam. Mas até nisso há beleza, porque essas tensões mostram o poder do “fazer-se”. Apesar do sofrimento, o poder de colocar seu ser em jogo e lutar por se fazer — ainda que a troco de vidas e sangue — existe. É a liberdade da luta.
Se tivéssemos que julgar a tradição, imagine como poderíamos nos antecipar sem um passado, sem tradição? Só é possível antecipar possibilidades a partir do passado da tradição. É como olhar para frente sempre olhando para trás. Para Heidegger, não é bem assim; é uma unidade da temporalidade: o instante se instância, possibilidades futuras a partir do passado.
Tudo isso? A própria facticidade aponta para a direção da sua própria abertura. Maria, você foi feliz ao comentar que o instante é propriamente abertura. Exatamente! A direção da facticidade aponta para esse modo em que somos abertura para o instante no qual nos ocupamos: a nossa abertura ocasional, o fenômeno da ocasionalidade, o “hoje” num instante, em cada ocasião.
Heidegger dirá que a ocasionalidade e o “hoje” são fundamentais porque são conceitos ou indicações formais. O fenômeno da ocasionalidade e o “hoje” não são a mesma coisa. O que determina a ocasionalidade é a instanciação — um termo que eu uso, não de Heidegger —, o acontecer desse instante que se dá, que dá lugar a um passado enquanto se instancia e antecipa o futuro. É uma unidade. A determinação da ocasionalidade é o “hoje”: o estar, o demorar-se no sentido de habitar, o apropriar-se sempre dele — às vezes, na maioria das vezes, não compreendido, mas vivido — como um instante “agora”.
Heidegger tomará o “hoje” — e coloquei aqui “ocupação esquecida” — porque isso remete à temporalidade imprópria, que veremos depois. Ele toma esse “hoje” como referência para prosseguir sua investigação. Ele não usará ainda o conceito de “impróprio”. Lembremos que ele está no início da investigação; alguns conceitos virão depois. Mas adianto para vocês guardarem: ontologicamente, o “hoje” supõe o presente do “agora”, o impessoal, o “Mitsein” (ser-com os outros), o “nosso tempo”.
Vamos guardar isso: ontologicamente, o “hoje” supõe o presente do agora, o impessoal (já sabemos o que é, o “Das Man”), o ser-com e o “nosso tempo”. Heidegger coloca “nosso tempo” entre aspas porque quer meditar sobre o que seja esse “hoje” e o “nosso tempo”, e como devemos afastar certos mal-entendidos ao tomar esse “hoje”.
Ele aponta dois tipos de mal-entendidos que ocorrem quando queremos tomar nosso tempo ou “hoje”.
O primeiro mal-entendido reduz a referência ao “agora”, ao instante originário que deveria ser. Geralmente, quando pensamos no nosso “hoje”, nossa referência são as tendências do nosso tempo. Heidegger não está abstrato; ele olha para seu tempo, para as ciências e a cultura da época. Mas veja que, apesar de ele estar nos anos 1920, se olharmos para hoje, não é muito diferente. O que guia o impessoal, a atmosfera pública, o discurso? Fala-se do “hoje” mesmo: agora, o que mais se fala é do julgamento de Bolsonaro, porque é a tendência mais interessante do instante. Depois que esse instante passar, uma nova tendência tomará nossa atenção.
Heidegger diz: “Calma. Isso reduz e constitui, de algum modo, a facticidade, mas não vamos nos orientar pelas tendências mais interessantes para investigar o ‘hoje’ ontológico do Dasein.” Ele diz que seguir essa referência, tomando hermeneuticamente o “hoje” e refletindo sobre as tendências mais interessantes do presente, é tratá-las como passatempo.
O que Heidegger está dizendo? Isso vem e eu tomo como passatempo. Não me aproprio disso na minha própria existência como um modo fundamental do meu ser constituído pelo instante histórico. É passatempo. Por quê? Porque daqui a pouco, o julgamento de Bolsonaro passa, e uma nova tendência vira meu novo passatempo. “Passar tempo”. A temporalidade é fundamental em Heidegger, constitui a essência do Dasein como cuidado (antecipação, já-sendo, junto-a). Mas essa temporalidade imprópria é, de fato, do “passar tempo”, nunca assumir propriamente minha própria temporalidade finita. É uma fuga da minha angústia, da minha finitude ontológica. Todas as tendências são passatempo porque me afastam de assumir a mim mesmo como temporalidade. Por isso preciso passar o tempo: para não confrontar minha finitude e minha angústia. Guardem isso.
O segundo mal-entendido é quando se interpreta a referência ao “hoje” como um sinal para meditações profundas e frutuosas — aquela noção de práticas meditativas, de “estar presente”. Heidegger aponta que isso também é uma redução e um mal-entendido. Quando se interpreta o “hoje” como sinal para meditações profundas, ele as chama de “as mais vazias”. Por quê? Porque o Dasein já se encontra numa referência a uma ocupação. Algumas práticas dizem: “Você tem que observar seu engajamento mental, sua ocupação, para ficar suspenso dela na meditação.” Mas, caramba, a própria meditação já é uma ocupação, um engajamento com o ato de meditar!
Por mais que se tente abstrair, chegar a um patamar de “observador do observador”, sempre há um engajamento, uma referência. O “si mesmo” não pode sair de si, no sentido de se descolar de toda referência. A própria visão de meditação é uma visão de mundo, engajada. Heidegger dirá que o único modo de nos desligarmos de toda referência é a partir da disposição fundamental da angústia. Quando ela irrompe — e isso é muito raro —, rompe com todas as referências, nexos e referenciais. Uma meditação, por mais elevada que seja, não rompe porque ainda constitui uma referência ao mundo — o mundo da meditação. Heidegger foi radical: só a angústia, onde o nada se manifesta completamente, sem nenhuma referência de mundo, pode romper a mundanidade. Portanto, essas meditações são “as mais vazias” porque tentam esvaziar o engajamento com o mundo, mas estão dentro do próprio horizonte do mundo.
Essas são duas referências que reduzem a referência ao “hoje”. Uma hermenêutica da facticidade precisa se manter vigilante contra esses desvios, que Heidegger chama de reduções e mal-entendidos. Em casos assim, o que se cultiva são apenas curiosidades.
De fato, quando olhamos para as tendências — modismos da arte, cultura, mídia, diversão, política — tudo endereça à curiosidade do “Das Man”. Fala-se das tendências do instante. A curiosidade também está na moda da meditação; vira uma tendência, todo mundo pratica budismo, vira uma moda. A academia também se envereda nessas tendências. Hoje, a grande tendência no mundo acadêmico é o decolonialismo. Daqui a pouco, isso esfria e vem outra. Tudo isso é o “hoje” histórico, mas não é o nosso “hoje”, nosso instante. São apenas tendências, passatempos e curiosidades.
É por isso que Heidegger perpassa a história para recuperar aquilo que permanece como “hoje”. Lembra quando falamos do mundo grego, da praxis e da techné? É isso que Heidegger está olhando. O “hoje” significa nossos dias, nossa cotidianidade, o desvanecimento nela, ser absorvido pelo mundo, falar dele, cuidar de coisas. Isso não está sendo demonizado. Heidegger dirá depois que isso é um “hoje” vivido impropriamente. Esse modo de ocupação é originário, mas quando estamos absortos no mundo do impessoal, nos apropriamos disso sem sermos propriamente concitados; somos concitados pela falação, pelo mundo público.
O “hoje” só se mostrará em seu caráter ontológico quando se explicitar o fenômeno fundamental da facticidade: a temporalidade. Heidegger observa que não é uma categoria, mas um existencial; constitui o ser do próprio Dasein. Esse “hoje” só se clarificará no sentido próprio a partir da temporalidade. Como o Dasein se temporaliza? De modo próprio ou impróprio? Esquecido ou rememorado? Assumido ou desleixado?
A temporalidade que deve tornar claro um modo de ser esquecido do Dasein é a temporalidade da ocupação: a maneira como compreendemos o mundo e nos atemos a ele. Isso se dá, na maioria das vezes, por meio de uma interpretação pública. Nossa inclinação é sempre pela corrente majoritária. Concordamos com o que faz sentido, com o que já ouvimos falar, com o que o mundo público defende. Raramente colocamos em questão esse nosso concordar.
Por que nos inclinamos para a corrente majoritária? Veja um exemplo simples: na Quadratura, nunca lotamos. Não foi por falta de divulgação, mas pela adesão curta. Às vezes, não vinha ninguém, e eu cancelava a conferência. Por quê? Porque a Quadratura tem um modo diferente de conduzir, um tom diferente do convencionado nas redes sociais ou nos estudos de Heidegger. Há uma “esticada” minha, interpretações mais personalizadas.
Se você olhar as formações do Instituto do Dasein, por exemplo, todo mundo parece ter o mesmo vocabulário, a mesma articulação de pensamento, até a mesma tonalidade de voz. Há um nivelamento. A ideia, no fim das contas, não é nivelar, mas desconformar, inquietar. Muitas vezes, vocês saem daqui sem entender nada, ou achando que foi uma bagunça na cabeça. E isso é bom! É para gerar tensão e desconforto, para que aquilo continue reverberando, para quebrar a tendência do nivelamento do “Das Man”, do “como se fala”, do “como se diz”. É para manter vocês despertos para as grandes questões.
A interpretação que temos do mundo possui um caráter público e é uma visão de mundo do Dasein. Isso é normal. O que está em jogo nesse nivelamento é o que Heidegger chama tecnicamente de falação (Gerede). O que é falação? É o “como”, o modo, a maneira com que uma determinada interpretação de si mesma está à disposição. Essa interpretação não é algo que se acrescenta ao Dasein; é algo que o Dasein alcança por si mesmo, do qual vive e pelo qual é vivido. É um modo do seu ser. Por isso, falamos como se fala, na maioria das vezes, no modo do nivelamento. Trata-se do mesmo fenômeno: medianidade, impessoalidade, nivelamento.
Essa interpretação do “hoje” é melhor caracterizada na medida em que é experimentada de modo não expresso. Lembra quando perguntei a você, Maria, o que era seu “hoje”? Você expressou uma ideia, e ao fazê-lo, saiu do instante. Ela é um modo tão próximo, tão constitutivo do nosso ser, que nos distanciamos e esquecemos — o fenômeno do esquecimento da ocasionalidade. Tudo é vivenciado por ela. Na medida em que Maria foi buscar uma ideia, ela já estava vivenciando um instante enquanto buscava a ideia. Por isso eu disse que a ideia ficou distante do instante.
Justamente por constituir o público, a medianidade — o modo de ser público — é algo que qualquer um pode entender facilmente. Nada do que ocorre passa despercebido. A falação fala de tudo, com uma peculiar falta de sensibilidade às diferenças próprias, às singularidades. A falação acaba encobrindo as diferenças porque medianiza todo mundo. “Ouve-se, conta-se, supõe-se, espera-se, concorda-se…” A falação não pertence a ninguém. Ninguém se responsabiliza pelo que foi dito de maneira impessoal.
Esse modo de ser, essa visão de mundo, constitui também nossa existência. Não é mau. O “hoje” não é mau. Heidegger faz uma crítica: a própria medianidade acaba guiando o modo de pensar científico. Os cientistas, de qualquer área, estão sempre visando as tendências, adequando seus saberes às demandas como passatempos, e não como problemas filosóficos profundos, enraizados em estruturas ontológicas. Isso é uma discussão poderosa no campo das ciências “rigorosas”, como Russell propunha. Heidegger pega essa referência para propor uma radicalização: não das ciências regionais, mas para uma ciência fundamental, uma ontologia fundamental.
Ele critica o estado das ciências e da universidade, que já era questionável em 1924 e continua sendo hoje. Imaginem: fui falar com um advogado, doutor em direito, sobre a necessidade de refundar o direito a partir de suas estruturas ontológicas. Ele não conseguia enxergar, porque está setorizado. Não se trata de “precisar de filosofia”, mas de uma requisição da ciência jurídica, uma refundação de suas próprias estruturas, um abalo. Isso não é só para o direito; é para todas as ciências. Fazer ciência rigorosa é radicalizar em estruturas ontológicas fundamentais. Quem, nas ciências da psicologia, do direito, da sociologia, está preocupado com isso? É muito raro, porque todos estão visando tendências. Dizem: “Ah, isso é o problema fundamental do nosso tempo.” Mas às vezes são só tendências de passatempo, modismos. A radicalização em estruturas ontológicas não está na visão, porque nem sequer são orientados por elas, mas por uma ideia, pelo idealismo.
Ouvinte A: Como você distingue o que é modismo ou não? Ontem fui a um evento que falou da Revolução Francesa, dos filósofos como Rousseau, John Locke, Karl Marx. Essas teorias da época não se aplicam mais; o mundo hoje é outro. Como filtrar e saber o que é importante, o que é verdade? Como arbitrar isso?
Professor Kadu Santos: Olha, Antonio, pra te dizer qual é a verdade, eu já estaria me embrenhando numa espécie de impessoalidade. O caminho que Heidegger propõe é justamente colocar em questão essas tendências e se voltar para o problema fundamental que subjaz a elas. No mais das vezes, isso é passatempo. O que está por trás? Qual é o problema de raiz?
Por exemplo, qual é o problema fundamental da política no Brasil? Será que é mesmo o partido A ou B? A tensão entre Lula e Bolsonaro? Ou será que é algo mais profundo? Quando Trump quer invadir a Venezuela, será que o problema é esse discurso, ou há algo mais fundamental? Necessitaria de uma investigação profunda. A primeira coisa, segundo Heidegger, é perguntar: qual o sentido de ser deste ente amalgamado na historicidade?
Você falou dos contratualistas e de Marx. Você disse que hoje isso não se usa mais. Mas observe: a contratualização continua, e a questão central de Marx — a divisão de classes — perdura, talvez até mais acentuada. Hoje, não é só empregador/empregado; é em níveis econômicos, o poder do capital. Os contratualistas ainda orientam: veja a uberização. Estamos entrando em terrenos fundamentais. Os fundamentos colocados por esses pensadores ainda orientam.
Outro exemplo: a República de Platão, utópica, nunca realizada. Mas ela orienta todas as repúblicas que temos. O fundamento permanece, mesmo que o tempo mude. Você mencionou Aristóteles, Platão, Santo Agostinho e Tomás de Aquino como “esteios”. Concordo que eles orientam, mas são visões de mundo. Heidegger também tinha uma visão de mundo. Se eu tomo esses quatro como esteios, ainda estou dentro de uma visão de mundo, limitado. O próprio Heidegger, ao tentar pensar a totalidade, era limitado por sua visão de mundo. Talvez a orientação primária venha dos pré-socráticos — Anaximandro, Heráclito, Parmênides — que não tinham estruturas determinadas como Aristóteles. Um passo de volta a eles poderia moderar nosso surto de onipotência e evitar o desabamento do mundo.
Professor Kadu Santos (continuando): Heidegger diz que hoje escrevem-se brochuras sobre a crise das ciências, conta-se de uma pessoa para outra que as ciências se acabaram, há uma literatura própria sobre como deveria ser a ciência. “Porém, além disso, nada acontece.” Esse “nada” não é um nada que não deve ser visado; ele tem importância. É como se tudo que se faz tivesse como fundamento um “nada” que não está em jogo. Heidegger vai falar disso em “Que é Metafísica?”: a ciência não olha para esse nada, que é condição de possibilidade para que ela veja o ente.
Heidegger também fala de Van Gogh, que escreveu ao irmão: “Prefiro morrer de morte natural do que me preparar para morrer na universidade.” Van Gogh enlouqueceu porque confrontou seu ser com o modo de ser do impessoal, o mundo das artes comercializado. O “hoje” nos afoba; pouco se reflete sobre ele como um instante assumido diante da própria ocupação. Esse é o ponto de orientação para investigar a facticidade e seu elemento fundamental: a temporalidade. Temos outros caminhos a investigar.
Trabalhamos hoje o “hoje”, um instante histórico, colocando em questão as tendências de modismos e passatempos. O que muda é a face, a aparência do problema, mas nas estruturas fundamentais, o problema permanece o mesmo. Finalizamos o segundo capítulo. No próximo encontro, vamos para o terceiro capítulo: “A Interpretação do Hoje na Consciência Histórica”. Vamos discutir se as teorias do passado resolvem os problemas de hoje ou se os problemas fundamentais permanecem.
Ouvinte T: Posso fazer uma pergunta? Quando você falava sobre a falação, fiquei pensando no conhecimento ancestral, trazido pela oralidade, como nas culturas de matriz africana, que não têm um livro, mas um líder que transmite o conhecimento. A falação de Heidegger é algo que se propõe apenas ao próprio Dasein, enquanto o conhecimento pela oralidade se projeta para fora. Seria o contrário?
Professor Kadu Santos: Não, não é o modo expresso. Lembra do termo “hermenêutica”? É uma transmissão. A oralidade, desde o início, era passada de um para outro. Até então, ninguém colocava em questão a veracidade ou a vivência do que era transmitido. Esse é um modo originário da nossa vivência. Na maioria das vezes, seguimos a atmosfera do que é dito. Só quando estamos estudando algo profundamente é que ficamos despertos. Fora isso, a tendência é seguir o que é dito e falado. A falação está disponível, e eu me aposso dela, mas não propriamente; é de modo impróprio. Estou disperso no mundo público. A diferença é estar desperto para algo que me concita, que me inquieta, que eu desenvolvo, e não apenas disperso, seguindo o que todo mundo diz.
A origem da falação vem dessa transmissão oral. Não é ruim; é um modo fundamental. Mas veja: existe uma “voz da consciência” que Heidegger fala — não é uma vozinha que fala no ouvido, mas uma conclamação silenciosa, uma inquietação. No meio do ruído, acabamos não nos dando conta. Para mim, o primeiro contato foi em 2013, num congestionamento: fui concitado a me voltar para a “linguagem da alma”. Primeiro veio a inquietação silenciosa; depois, a consciência articulou uma pergunta. A fala é sempre atrasada. A ideia seria nos calarmos mais e falarmos menos.
Ouvinte T: Eu sempre acreditei que ler estimula mais porque envolve mais áreas cerebrais. Mas agora, com o boom dos audiolivros, a gente quer mais ouvir do que ler. Será que isso nos atrofia, porque deixamos de acessar as origens?
Professor Kadu Santos: Essa sua colocação é fundamental. Não sei se posso dizer qual é “mais correto”. Quando leio, escuto e vejo a imagem do texto. Quando ouço, também vejo. Heidegger diz que somos “todos ouvidos”. Talvez tenhamos um “sentido universal” que potencializa os sentidos externos. Se conseguirmos nos aproximar desse sentido — que não é interno nem externo, mas algo que antecipa os sentidos —, talvez alcancemos uma potência maior. É algo quase de fé, de vivência, que a ciência não pode verificar. Eu não aprendi isso na academia; foi uma experiência pessoal na relação com os textos filosóficos, um poder da hermenêutica que todos temos, mas do qual precisamos nos desapegar das estruturas apriorísticas.
Ouvinte T: Interessante. Eu sempre associei o ler a imagens arquetípicas já estruturadas — a mãe, o pai, a cadeira. Mas nesse ponto mais profundo, nada disso informa; a lógica é outra, como no “mundo das ideias” de Platão ou no “plano da produção desejante” de Deleuze e Guattari.
Professor Kadu Santos: Onde você viu que o mundo das ideias não tem forma? Platão trabalha com a ideia de uma forma perfeita, e o que praticamos no mundo é uma cópia imperfeita. A ideia fundamental é justamente o que não aparece, mas é condição de possibilidade para o aparecimento do ente. Olhamos para você, para Maria, e vemos a diferença na aparência. Mas quanto ao ser de ambos? Parece haver algo muito uno entre você, Maria e eu. Heidegger radicalizou isso: parece haver algo uno entre nós e Hitler — no modo de ser, na finitude, na temporalidade, no cuidado (Sorge). Hitler era humano, finito, repleto de afetos. O problema é que ele olhava para a aparência e distinguia. Precisamos questionar a aparência para chegar ao caráter ontológico, ao ser daquilo que aparece.
Ouvinte M: Podemos pensar que Hitler, como qualquer um de nós, estava tentando sustentar sua existência, seu ser no mundo, com as condições de possibilidade que tinha, ao seu modo? Se a gente olha nessa dimensão, essa questão de atribuir “maldade” acaba sendo moral, e a gente empobrece as dimensões do que é existir.
Professor Kadu Santos: Exatamente. Isso é uma discussão puramente moral. Ele estava ali, como todos nós, na tentativa de colocar seu ser em jogo. Se a gente sai disso, cai na moralização, e empobrece. Essa discussão só é possível porque confio que vocês compreendem os pontos. Suspenderemos o juízo moral por um momento para tentar enxergar o Dasein histórico de Hitler, compreender as estruturas ontológicas que nos igualam. Depois, voltamos e dizemos: “Mas eu reprovo suas atitudes.” Não é para justificar, mas para compreender o porquê de tais decisões. Muitas pessoas não fazem isso; empobrecem a discussão filosófica. Qualquer questão, por mais que nos doa, deve ser enfrentada. É aquilo que nos faz questão, que nos puxa. Se nos mantemos no “ópio” da reprovação sem discutir, não amadurecemos.
Ouvinte M: É muito confortável, daqui da minha poltrona, julgar alguém que viveu naquele momento, com todas aquelas variáveis. Se eu tivesse nascido na Índia, teria outros referenciais. Temos uma mobilidade no nosso ser. As pessoas têm dificuldade de perceber isso, de sair das “caixinhas”.
Professor Kadu Santos: Exatamente. Nem todo mundo adere a tudo; não há adesão coletiva universal. Tudo é construção histórica, visão de mundo. Isso não justifica, mas nos ajuda a pensar o ente histórico. Isso traz maturidade e pode ajudar até em questões familiares: quantas pessoas julgam pais ou irmãos por traumas de infância, descolados de sua situação? O perdão acontece quando se chega a uma compreensão mais profunda.
Ouvinte M: Conheço pessoas intelectualmente boas que defenderam ideias de Bolsonaro. O que acontece com elas? Há uma inquietação ali. Sair desse lugar de moralizar é importante.
Professor Kadu Santos: Na maioria das vezes, é a mediatização e o “Das Man”. Se você perguntar “por quê?”, a resposta será algo da falação pública: “Porque estou cheio de corrupção”, “Porque não quero que meu filho vá para o banheiro de menina”. Tudo alinhado com a atmosfera da falação. Até intelectuais estão amalgamados numa medianidade, só que mais sofisticada.
Se nos elevarmos, como diz Nietzsche, “para além do bem e do mal”, veríamos de cima e não agiríamos, não tomaríamos posições. Tudo que é vida é vontade de poder. Erradicar o contraposto faz a vida perder a graça; a beleza de um Estado democrático são as diferenças. Manter as diferenças é o desafio. Eu me coloco numa posição de não me posicionar, para ver os polos e tentar abrir novas possibilidades com minhas questões. Alguém pode dizer: “Ah, você não quer se engajar, é frouxo.” Brincadeiras à parte, foi um encontro ótimo. Nos vemos daqui a 15 dias.
Ouvinte M: Você nem se preparou tanto e foi tão bom!
Professor Kadu Santos: É verdade. Eu faço o caminho com Heidegger e escrevo, mas nunca planejo exatamente o que vou falar. É puro caminho.
REFERÊNCIA
A presente conferência teve enquanto base teórica o § 6. do texto de Martin Heidegger intitulado “Ontologia (Hermenêutica da faticidade)”, publicado pela Editora Vozes com a tradução de Renato Kirchner. Petrópolis, RJ : Vozes, 2012. (Coleção ‘textos Filosóficos)
Sobre o Autor




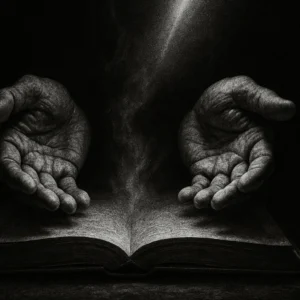

0 Comentários